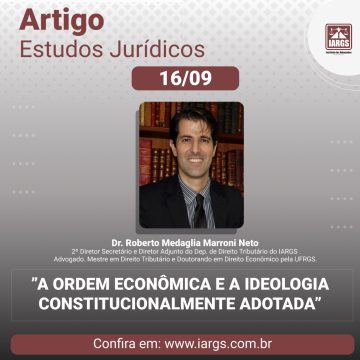A Ordem Econômica e a Ideologia Constitucionalmente Adotada
para IARGS
A Ordem Econômica na Constituição de 1988
Leciona o saudoso mestre Washington Peluso Albino de Souza, quem introduziu o Direito Econômico no Brasil (GRAU, 1978, p. 211), a partir da sua sistematização como disciplina na Universidade Federal de Minas Gerais (SOUZA; CAMARGO; TORELLY, 2015, p. 58; SOUZA, 2001, p. 18), que a expressão Constituição contém vários significados e pode ser tomada como sinônimos de “organização”, de “formação”, de “estruturação”, e que tem sido empregado em outros ramos do conhecimento como “ordem” e “ordenação” (SOUZA, 2002, p. 4).
E ao enfrentar essa perspectiva nos deparamos com ordem social, ordem política e ordem econômica. Todas elas partem da relação entre indivíduos entre si e indivíduos e outros objetos, as quais possuem como característica o elemento normativo, prescrevendo determinada conduta desejada por uma pessoa ou grupo de pessoas. “Uma ‘ordem’ é um sistema de normas cuja unidade é constituída pelo fato de todas elas terem o mesmo fundamento de validade” (KELSEN, 1995, p. 33).
Mas quando essa ordem entra em contato o “valor” jurídico (dever ser) acontece o fenômeno da jurisdicização. A expressão (ordem) passa a ter um significado jurídico, prescrevendo que uma conduta real deve ser de acordo com a norma objetivamente válida – que fixa uma conduta como devida – atribuindo um valor positivo ou negativo (KELSEN, 1995, p. 19 e 27).
E pode-se dizer que a ordem jurídica, como qualquer outra norma social, possui relação umbilical com “valores” elegidos como importantes para determinado grupo social. Esses “valores” podem representar a relação de um objeto (especialmente conduta humana) com o desejo ou vontade de um ou vários (valor subjetivo), e a relação da conduta humana com a norma positiva (valor objetivo) (KELSEN, 1995, p. 21). Um valor é algo que estabelece certa prevalência dentro de um determinado grupo social, sendo mais aconselhável ou atrativo conforme os fatores que coesionam seus integrantes (ÁVILA, 2019, p. 158).
Tais valores, insculpidos na norma jurídica objetivamente válida, estão traduzidos, na sua máxima expressão, no termo “Constituição”. Trata-se da organização das leis que compõem essa ordem no campo do direito positivo (SOUZA, 2002, p. 4). A Constituição de um Estado é sua lei fundamental, organização de seus elementos essenciais, que […] regula a forma de Estado, a forma de seu governo, o modo de aquisição e execução do poder, o estabelecimento de órgãos e os limites de sua ação […] (SILVA, 1994, p. 40).
Mas o que importa no momento é o seu “conteúdo”. Enquanto as constituições do século XIX estavam preocupadas com aspectos políticos, as constituições do século XX, passaram a se preocupar “[…] com as relações de forças econômicas, com técnicas intervencionistas do Estado e com ampliação, ou com a socialização dos direitos dos cidadãos” (SOUZA, 2002, p. 5-6). Em outras palavras, as constituições modernas passaram ter conotação de Constituições Econômicas, a qual faz parte de uma opção política exposta na Constituição do Estado, como projeto constitucional de desenvolvimento social e econômico. O constitucionalismo moderno e o contemporâneo “[…] alargaram o conteúdo material da Constituição, para nela introduzir o ordenamento econômico […]” (HORTA, 1995, apud SOUZA, 2002, p. 12).
E não poderia ser diferente diante de fenômenos econômicos imprevisíveis, como as grandes guerras, queda da Bolsa de Nova York, a resolução industrial, circunstâncias que passaram a exigir uma atuação maior do Estado na economia. O sistema preconizado pelos fisiocratas e os clássicos Adam Smith e seus continuadores – os quais defendiam a atuação do Estado restrita ao mínimo indispensável, como a defesa militar, a manutenção da justiça, da ordem e neutralidade das contas públicas (BALEEIRO, 2015, p. 30) – mostrou sua ineficiência e denotou a decadência do liberalismo clássico. Aliás, é a própria obra de Adam Smith que fundamenta a atuação estatal nas áreas não atrativas ao particular (CAMARGO, 2001, p. 38)
E no Brasil não se deu diferente, pois o econômico foi incorporado às constituições brasileiras desde a Constituição de 1934, colocando-o numa posição importante, já que o tema foi separado em título específico, da Ordem Econômica e Social, a exceção da Constituição de 1937, que restringiu à expressão Da Ordem Econômica (GRAU, 2010, p. 63). Os direitos e garantias passaram a ser considerados não como uma expressão individualista, mas como “[…] parcela participante da vida econômica da própria sociedade […]”, tomado na expressão interesses coletivos, comunitários, da massa (SOUZA, 2002, p. 29).
A partir de então, passamos a ter a noção da Constituição Econômica, a qual, longe de ser algo distante e separado do texto constitucional, antes faz dele parte integrante. A expressão serve para fazer referência a normas constitucionais envolvendo o tema econômico. Não importa se ele se apresenta em um título em separado ou por meio de previsões esparsas. Sua caracterização baseia-se na presença de econômico no texto constitucional (SOUZA, 2002, p. 23; 2005, p. 209).
Inclusive, a Constituição de 1988, além de tratar do tema econômico no seu Título VII (Da Ordem Econômica e Financeira), deu maior ênfase ao “social”, para tratá-lo em título separado (Da Ordem Social, Título VIII), o que mostra uma ruptura da ordem jurídica liberal para uma ordem jurídica intervencionista (GRAU, 2010, P. 63). O capitalismo se transforma “[…] na medida em que assume novo caráter social (GRAU, 2010, p. 64).
A Ordem Econômica e a Ideologia Constitucionalmente Adotada
Então, como percebemos, a Constituição de 1988 deu ênfase aos valores comunitários ou de massa (interesses coletivos), como elemento fundante de seu projeto constitucional global. Não deixou de garantir os direitos individuais, mas os expandiu para transformar o homem cidadão em homem “trabalhador”, “produtor”, “investidor” e “consumidor” (SOUZA, 2002, p. 29). Não à toa que o art. 170 da Constituição harmoniza o trabalho com a livre iniciativa, colocando-os dentro de um quadro maior chamada Justiça Social, para atingir fins lá previstos.
Em outras palavras, o texto constitucional enuncia temas econômicos e sociais para evidenciar o tratamento político escolhido pelo Constituinte Originário. E considerando a Constituição como um elemento de ordenação de um projeto político, parece ficar evidente a “constitucionalização de uma ideologia” (SOUZA, 2002, p. 15).
Como mencionado o tema econômico veio sendo observado desde a Carta de 1934, ao menos de forma expressa, com destaque em título específico, contendo diversos artigos e estruturando o que se pode chamar de discurso da Constituição Econômica. Por meio dele o texto constitucional elege o elemento econômico e o atribui efeitos jurídicos, contextualizando a atividade econômica com os enunciados normativos, e deflagrando o programa fundante da ordem econômica nacional (CAMARGO, 2019, p. 98-9).
O que se está a dizer é que esse discurso econômico foi insculpido no texto constitucional, objetivando dar significado a seus enunciados. O Direito e, em especial a Constituição, são não apenas ideologia, mas mecanismo de cristalizar mensagens ideológicas (GRAU, 2010, p. 170). O direito em geral não se apresenta somente como proteção de interesses e decisão de conflitos de interesses, mas também como portadores de um pensamento ético. A violação de bens juridicamente protegidos abala também a ordem moral (ENGISH, 2008, p. 186-7). Por isso, a solução dos problemas só estará correta se seguirmos a ideologia constitucionalmente adotada.
Essa ideologia está insculpida nos princípios adotados na ordem jurídica. O discurso normativo contém o referencial axiológico a que se reporta o texto constitucional (CAMARGO, 2019, p. 100). E isso se deve à natural função dos princípios jurídicos como “[…] normas que atribuem fundamento de outras normas, por indicarem fins a serem promovidos […]” (AVILA, 2019, p. 157). E esse é o balizamento que a ciência do direito nos impõe através do direito positivo, manifestando a política econômica escolhida, por meio de imperativos, proibições, permissões, autorizações, indicações e imposição de sanções (CAMARGO, 2019, p. 100).
Em outras palavras, a “[…] função primacial do discurso constitucional é exprimir a ideologia captada pelo legislador constituinte e dar-lhe a configuração de elemento fundamental do direito positivo definido na ordem jurídica sobre ela construída […] (SOUZA, 2002, p. 33).
Mas é importante fazer referência que esses valores políticos enaltecidos normativamente não implicam na escolha de modelos econômico puros (capitalismo, socialismo, comunismo). Como bem leciona o professor Ricardo Antonio Lucas Camargo, “Não é possível verificar-se, na prática, a existência de ‘sistemas econômicos’ em estado puro, uma vez que os trataremos como ‘tipos ideais’ […]” (CAMARGO, 2019, p. 132). O nosso texto constitucional combina elementos ideológicos distintos num mesmo discurso, ainda que em aparente conflito na sua noção pura. Ele […] mesclou ideologias puras e distintas, criando um modelo produtivo plural, onde vários sistemas econômicos possíveis convivem dentro da moldura constitucional […] (CLARK, LELIS, URSINE, CORREIA e NASCIMENTO, 2021, p. 4-5).
Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 adotou, no mesmo texto, princípios ideológicos atribuíveis ao capitalismo, ao socialismo ou comunismo, transferindo ao intérprete a sua harmonização (SOUZA, 2002, p. 35). A tensão entre a liberdade de iniciativa com a figura do abuso do poder econômico que a contraria em nome da concorrência, entre a dignidade humana e solidariedade, entre as categorias sociais de produção, entre a propriedade plena e a função social, deverão ser contornados, por meio do princípio da economicidade, entendido como a linha da maior vantagem na aplicação das circunstâncias concretas (SOUZA, 2002, p. 66). Deve-se buscar, na análise da situação concreta, o valor político-econômico que mais atenda os objetivos superiores definidos na Constituição (SOUZA, 2002, p. 67; CAMARGO, 2019, p. 22). Como diz o professor Humberto Ávila, se os princípios tratam dos diferentes aspectos de atuação estatal, a relação entre eles não é de concorrência, mas de complementação (ÁVILA, 2019, p. 154).
Dizendo de outra forma, o texto constitucional estabelece fundamentos da própria ordem econômica, que são a “valorização do trabalho humano” e a “livre iniciativa”, tendo por fim a existência digna, a serem analisados nos contornos da Justiça Social (art. 1, IV, e 170, CF). Então, a propriedade privada ou função social, a livre concorrência ou a repressão ao abuso do poder econômico serão tomados em caráter circunstancial e deverão ser analisados de acordo com a linha de maior vantagem, tendo em mente sempre a realização daqueles valores constitucionais (SOUZA, 2002, p. 448). A Constituição de 1988 adotou o que o professor Washington Albino Peluso de Souza chamou de “economia social de mercado” (2002, p. 449), onde valores individuais são conciliados com valores coletivos. O sistema capitalista ainda é preservado, mas renovado sob regime diverso; permite a livre movimentação do mercado, mas também a atuação do Estado “sobre” e “no” domínio econômico, de molde a preservar o próprio sistema capitalista (GRAU, 2010, p. 43 e 91; CAMARGO, 2024, p. 121);
Assim, o que deve ficar bem estabelecido é que a Constituição de 1988 estabeleceu como seu elemento fundante uma ideologia política estruturante de uma economia social de mercado, onde valores ideológicos puros, aparentemente conflitantes, devem ser harmonizados pelo princípio da economicidade, buscando linha de maior vantagem à consagrar a ideologia constitucionalmente adotada.
Referências bibliográficas
CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Direito econômico: aplicação e eficácia. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 2001.
_____, Ricardo Antonio Lucas. Política Econômica, Ordenamento Jurídico e Sistema Econômico: a sobrevivência do Estado de Direito na Economia Atual. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editora, 2019.
______, Ricardo Antonio Lucas. Tributação e funções econômicas do Estado na Constituição: o papel do jurista (livro eletrônico). São Paulo: editora Dialética, 2024.
BALEEIRO. Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 19ª edição, revista e atualizada por Hudo de Brito Machado Segundo. Forense: Rio de Janeiro, 2015.
GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2010.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 4ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1995.
LELIS, Davi Augusto Santana de; CLARK, Giovani; URSINE, Ícaro Moreira; CORRÊA, Leonardo Alves; NASCIMENTO, Samuel Pontes do. A Constituição Econômica de 1988 e sua Ideologia Adotada: apontamentos históricos. Revista Semestral de Direito Econômico, Porto Alegre, v. 01, n. 01, e0107, jan./jun. 2021. https://doi.org/10.51696/resede.e0107
SILVA, José Afonso da Silva, Curso de Direito Positivo. 9ª edição revista, 4ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 1994.
SOUZA, Washington Albino Peluso de. Primeiras linhas de direito econômico. 6ª edição. São Paulo: LTr, 2005.
_____. Teoria da Constituição Econômica. Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
SOUZA, Washington Peluso Albino de, CAMARGO, Ricardo Antônio Lucas, TORELLY, Paulo Peretti. Constituição econômica e pacto federativo. Porto Alegre: Núria Fabris, 2015.
Roberto Medaglia Marroni Neto
2º Secretário e Diretor Adjunto do Dep. de Direito Tributário do IARGS. Advogado. Mestre em Direito Tributário e Doutorando em Direito Econômico pela UFRGS