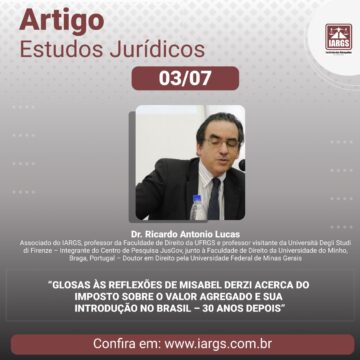Glosas às reflexões de Misabel Derzi sobre o Imposto sobre o Valor Agregado e sua introdução no Brasil – 30 anos depois*
para IARGS
*O presente texto nasce de intervenção oral em discussão realizada em grupo de pesquisa coordenado pelo autor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A reforma tributária ocorrida em 2023, que segue sendo implementada, agora com a Lei Complementar 214, de 2025, rendeu ensejo a que se resgatasse texto publicado em 1995, nas páginas 62 a 71, da Revista Sequência, da Universidade Federal de Santa Catarina, para discussão perante o grupo de pesquisa “Sistemas Econômicos e Constituição Econômica”, mantido junto à Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A Professora Misabel de Abreu Machado Derzi, sempre atenta às tendências de determinado senso comum a respeito dos tributos, conhecedora da experiência tributária europeia e das críticas, normalmente, feitas ao ICMS e ao ISSQN, suscitou, no ano de 1995, reflexão sobre o que significaria a introdução do Imposto sobre o Valor Agregado – IVA – entre nós.
À época em que escreveu esse artigo se pretendia, em nome da globalização, promover alterações no texto constitucional, embora, no âmbito tributário, estas não tivessem vindo. Já tinham ocorrido as privatizações da Usiminas, em 1991, da Companhia Siderúrgica Nacional, 1994, e preparava-se tanto a extinção da diferença entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional como também a privatização da telefonia, da transmissão de energia elétrica e da Vale do Rio Doce. Já havia, também, sido pronunciada a inconstitucionalidade de disposições da Emenda Constitucional n. 3, de 1993, que pretendera excepcionar o imposto provisório sobre movimentações financeiras das limitações normalmente postas para os tributos, notadamente as imunidades e a anterioridade.
A contribuição do período primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi a lei Kandir, a Lei Complementar 87, de 1996, que promoveu alterações profundas no que toca às normas gerais do ICMS, modificando o já vetusto decreto-lei 406, de 1968.
A reforma tributária relevante que ocorre, em termos constitucionais, vai dar-se já no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, em 2000, quando se passa a admitir a progressividade do IPTU fora da hipótese do artigo 182 da Constituição
Já no primeiro Governo Lula, vem outra reforma atingindo o ICMS, em 2003, com a Emenda Constitucional 42, que, dialogando com a jurisprudência do supremo, veio a tornar possível a tributação, por este, das importações uso próprio. A mesma Emenda 42 tornou imunes a impostos as transmissões de rádio e televisão, remuneradas exclusivamente por anúncio. Elas não tinham essa imunidade. Mais tarde, bem mais tarde, nós vamos ver a Emenda 87 que tratou do ICMS no que diz respeito a operações interestaduais. Em 2015, novamente, afetando o ICMS, veio emenda constitucional imunizando produtos culturais brasileiros.
Agora, em termos de modificar-se o regime de ICMS, ISS etc. e tal, não houve realmente até as propostas de emenda que acabaram culminando na Emenda Constitucional 132, de 2023.
Uma premissa importante em relação ao sistema tributário da Constituição de 88, mesmo do texto originário, é que ele se encontra muito mais vocacionado a estabelecer um equilíbrio entre as unidades federadas no território nacional do que o texto anterior, como observa a autora.
E essa ideia de equilíbrio vem a ser reforçada, inclusive, pela noção das normas gerais, que passam a ter uma dimensão bem diferente daquela que tinham na vigência da Constituição de 1967 e a Emenda número 1 de 69. As normas gerais foram recepcionadas, mas com uma índole completamente diferente. E por que diferente? Por uma razão muito simples: porque, apesar do texto de 67, editado sob a égide do Ato Institucional número 4, formalmente se proclamar federalista e consagrar como cláusula pétrea a federação, tinha um caráter francamente centralista em vários aspectos. Um deles: a União podia, mediante lei complementar, conceder isenções de tributos locais. Era uma forma que a União tinha de cercear os movimentos de eventuais oposicionistas, embora estes só começassem a aparecer, mesmo, no âmbito dos executivos estaduais e municipais, a partir de 1982. Porque, até então, a eleição do governador era o colégio eleitoral que fazia. Foi assim com todos os Governadores entre 1966 e 1982, foram guindados ao poder pela via indireta. A partir de 82 houve eleições para governador no Brasil. A partir daí, sempre essa possibilidade de o Presidente General João Baptista Figueiredo ficar com raiva do Governador Franco Montoro em São Paulo, e manietá-lo com uma isenção tributária do ICM, que foi o imposto que antecedeu o ICMS. Então a disciplina do ICM no decreto-lei 406 de 68 foi recepcionada pela Constituição de 88, modificando-se, voltemos a dizer, o enfoque, mais voltado a assegurar a autonomia dos Estados e Municípios.
Os instrumentos para evitar a fragmentação econômica do território nacional foram editados tendo em vista a possibilidade dos abusos na disciplina do velho ICM que não desapareceram com o ICMS. A lei complementar número 24, de 1975, estabeleceu os requisitos para a concessão de benefícios fiscais relativos ao ICM. O Supremo Tribunal Federal tradicionalmente tem fulminado por inconstitucionalidade a concessão desses benefícios sem a observância do rito posto na lei complementar número 24.
Pensando nesta questão do equilíbrio, merece meditação a Lei Complementar 160, de 2017, que praticamente veio a dizer que mesmo que declarada a inconstitucionalidade da concessão desses benefícios fiscais, alguns a título de incentivo, outros ao outro título qualquer, eles podem vir a ser convalidados. Essa lei complementar praticamente vai dizer: “combatemos a guerra fiscal, mas não é bem, bem, bem assim, porque, afinal de contas, como é que vão ficar os benefícios outorgados para os empresários?” Como se, na realidade, os empresários, nesse particular, estivessem em numa posição de verdadeiras vítimas, que não tivessem nenhuma influência, inclusive, no financiamento das campanhas dos governadores, dos deputados, dos senadores e outros que tais, envolvidos diretamente na gestão desse imposto.
Aflora, também, no texto da Professora Misabel a questão da não cumulatividade como algo que vai contribuir para a neutralidade, aqui entendida como a disciplina da exação de modo que não contribuísse para falsear a concorrência. Uma das grandes preocupações na União Europeia é justamente o problema de os auxílios fiscais esvaziarem a igualdade entre os concorrentes. E é por isso que eles têm que ser muito bem justificados ali, o que não impede aos estados membros da União Europeia fazerem a sua Guerrinha fiscal de vez em quando. Embora se busque, a partir da noção de “neutralidade fiscal”, dar ao ICMS um sentido um pouquinho mais fiscal, entre aspas, e um pouquinho menos voltado a fins extrafiscais, cabe lembrar que qualquer tributo, seja ele de que natureza for, sempre vai ter efeitos extrafiscais.
Muitas pessoas fazem investimentos em paraísos fiscais, não com o escopo de produzirem utilidades, mas no sentido de obterem frutos, porque sabem que ali estes não vão sofrer gravames muito acentuados. Não me consta que as Bahamas sejam um dos países mais desenvolvidos do mundo. Agora, o que vai de dinheiro privado para lá é um volume bastante considerável.
E a professora Misabel, quando escreve este texto, está olhando para o tema do Mercosul. Quando foi constituído o mercado comum europeu, na década de 50 do século passado, tomaram-se várias questões em consideração no que diz respeito a assegurar a própria legitimidade das decisões voltadas a formar este espaço. Tomaram se em consideração questões relacionadas a trabalho, a previdência, por exemplo. Quando foi celebrado o tratado de Assunção, durante o governo Collor, essas questões passaram ao largo do ato constitutivo, porque então se vivia a euforia da queda do Muro de Berlim e se pretendia não somente promover a privatização de empresas estatais como a própria eliminação ou, pelo menos, redução do que se considerava como embaraços regulamentares à livre circulação de mercadorias e de capitais e ao exercício da atividade econômica privada.
O texto é um exemplo da grande preocupação da autora com o espírito copista que nós temos aqui no Brasil. Justamente porque a aparente unificação dos impostos indiretos representada pelo Imposto sobre Produto Agregado terminou por, nos países europeus, fazer com que o respeito às peculiaridades de cada qual determinasse, inclusive, a adoção de alíquotas diferenciadas. Então, essa observação é bem importante. Essas questões das operações interestaduais e os desequilíbrios que muitas vezes elas geram, eu cheguei a tratar delas num livrinho de 2008, intitulado ICMS e equilíbrio federativo na Constituição económica, e toquei nos instrumentos de compensação então existentes, como é o caso do diferencial de alíquotas.
E, hoje, a emenda 132, ninguém podia imaginar que eles iam criar uma exação tributária com mais de um credor em caráter simultâneo. O mesmo fato gerando tributo com mais de um credor. E aí, a quem se dirige o contribuinte na hora que verificar que houve algum erro no pagamento? Ou ele não era devido? Ou então pagou a mais? A quem pedir?
E aí realmente as normas gerais vão ter que disciplinar essa matéria para nortear a atuação dos estados membros, dos municípios, justamente para que nós não caiamos naquela situação que nós vivíamos na vigência da Constituição de 46, antes das normas gerais de direito tributário e direito financeiro, e que Alfredo Augusto Becker corretamente qualificou em 1963 como um manicômio jurídico tributário brasileiro. Esta é uma obra que precisa ser mais revisitada, embora haja algumas ressalvas. Na segunda edição, de 1972, da sua Teoria geral do direito tributário, Becker não dialogou com a superveniência do código tributário nacional, e é isso que compromete a parte dogmática do seu livro, a despeito do incomensurável valor da parte teórica. Ele nega, sob o ponto de vista teórico, a distinção entre tributos diretos e tributos indiretos. Mas o artigo 166 do Código Tributário Nacional pressupõe essa distinção necessariamente. Então, pouco adianta a ele, a Geraldo Ataliba, e a tantos outros, com base em Gaston Jèze, rejeitarem essa distinção entre tributos diretos e indiretos, se o nosso Código Tributário adota essa posição, que, inclusive, vem a ser corroborada pelas Súmulas 71 e 546 do Supremo Tribunal Federal.
Pode-se dizer que o texto da Professora Misabel é datado, no sentido de que o IBS iria fazer, a partir de sua instituição, as vezes do IVA, extinguindo o ICMS e o ISSQN, mas se mostra pleno de atualidade, no sentido de se identificar o que assimilar da experiência de outros países, principalmente no que se refere aos erros na gestão do IVA, para se saber quais seriam os problemas previsíveis e evitáveis.
Ricardo Antonio Lucas Camargo
Associado do IARGS, Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Professor Visitante da Università degli Studi di Firenze – Integrante do Centro de Pesquisa JusGov, junto à Faculdade de Direito da Universidade do Minho, Braga, Portugal – Doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais – Ex-Presidente do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública (2016-2018), Procurador do Estado do Rio Grande do Sul